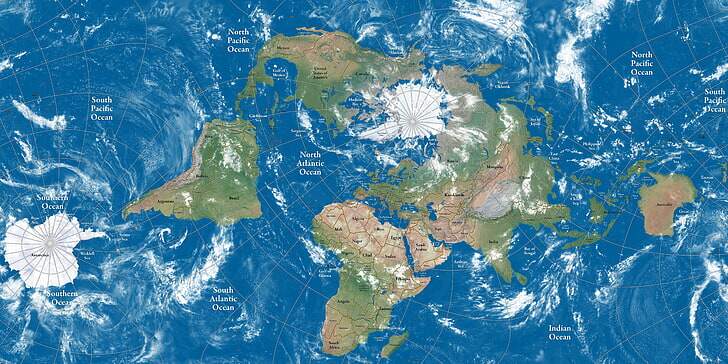
Etiqueta: Temas Contemporâneos
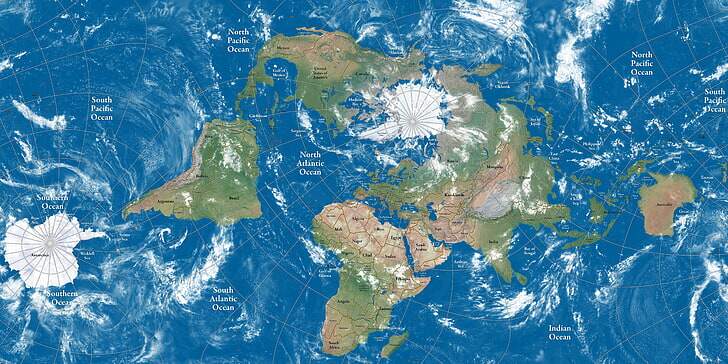

As razões pelas quais a Rússia já perdeu a guerra da Ucrânia
20 de julho de 2022


Os Estados Unidos, as disputas por hegemonia global e a América Latina
7 de abril de 2022

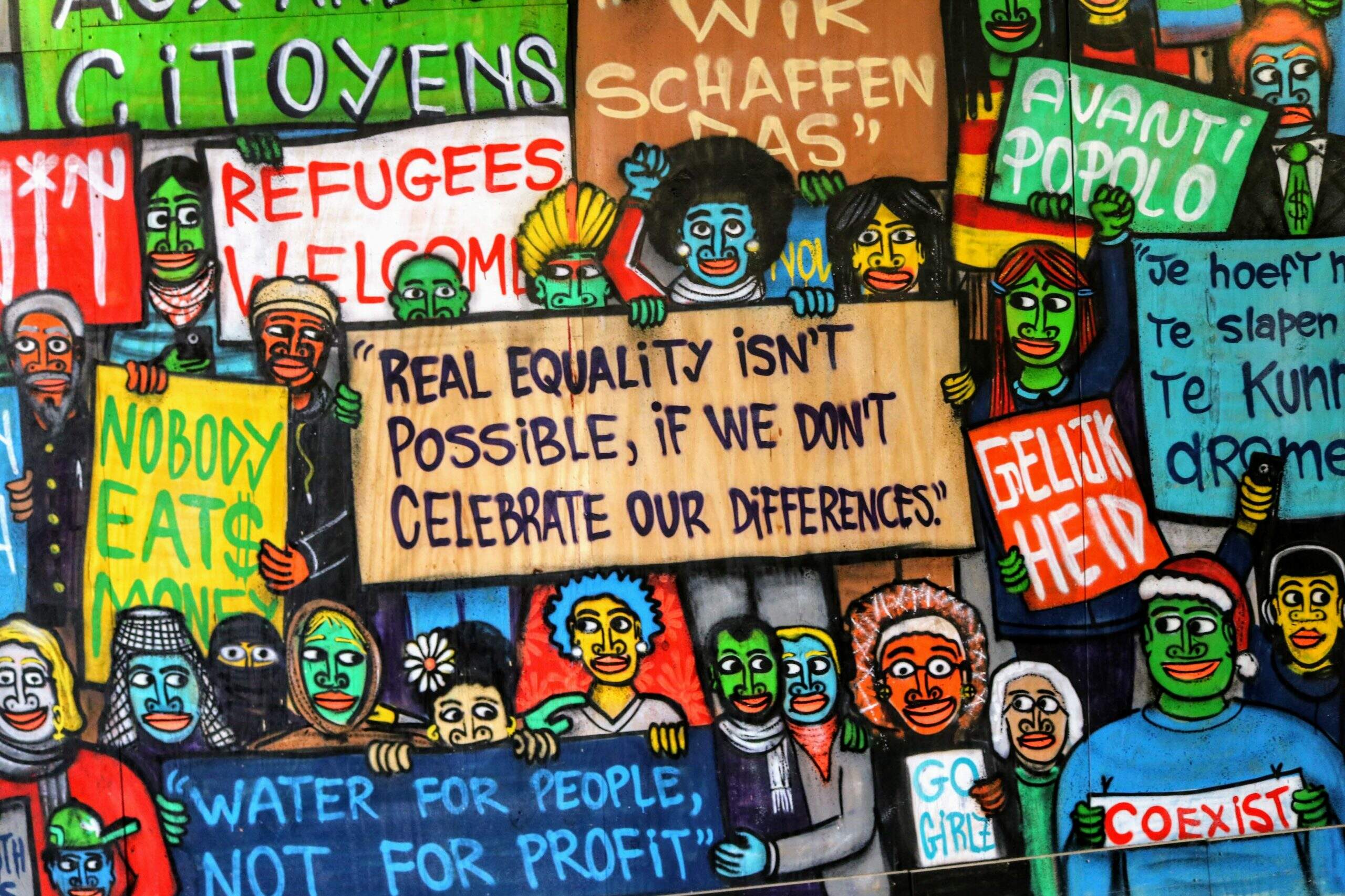
A relação entre direitos humanos e segurança humana
2 de janeiro de 2022

O AUKUS e o pivô do Reino Unido para o Indo-Pacífico
27 de outubro de 2021

A Grã-Bretanha Global e o HMS Defender no Mar Negro
3 de agosto de 2021

Represa da Renascença reacende tensões geopolíticas entre Egito, Sudão e Etiópia
16 de abril de 2021
