
Etiqueta: Israel


Uma tragédia anunciada: os ataques à Faixa de Gaza e o genocídio palestino
12 de março de 2024
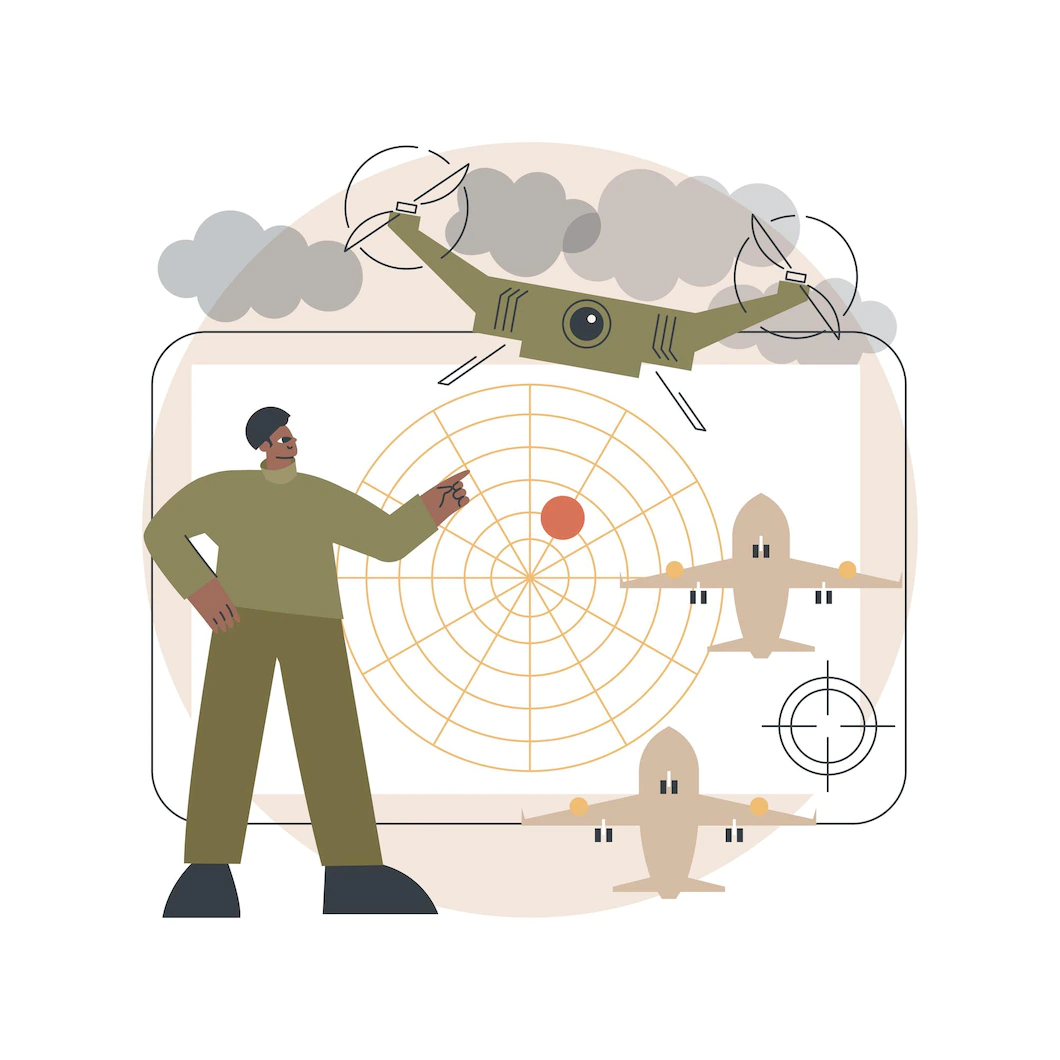

40 anos da primeira invasão israelense ao Líbano: consequências e lições
7 de outubro de 2022


Israel-Palestina: permanecem as velhas perguntas sem novas respostas
23 de julho de 2020
