
Etiqueta: Estados Unidos




Te vira! ‘Desprezo de Trump’ força Europa a arcar com custos, embora continente já pague a conta
17 de fevereiro de 2025


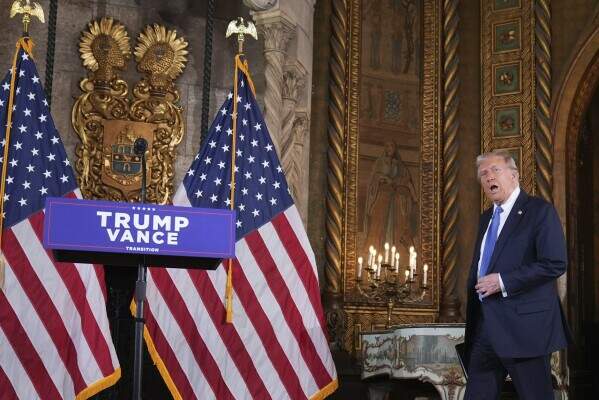
O novo governo Trump e a guerra na Ucrânia: possíveis indícios e cenários
26 de dezembro de 2024

