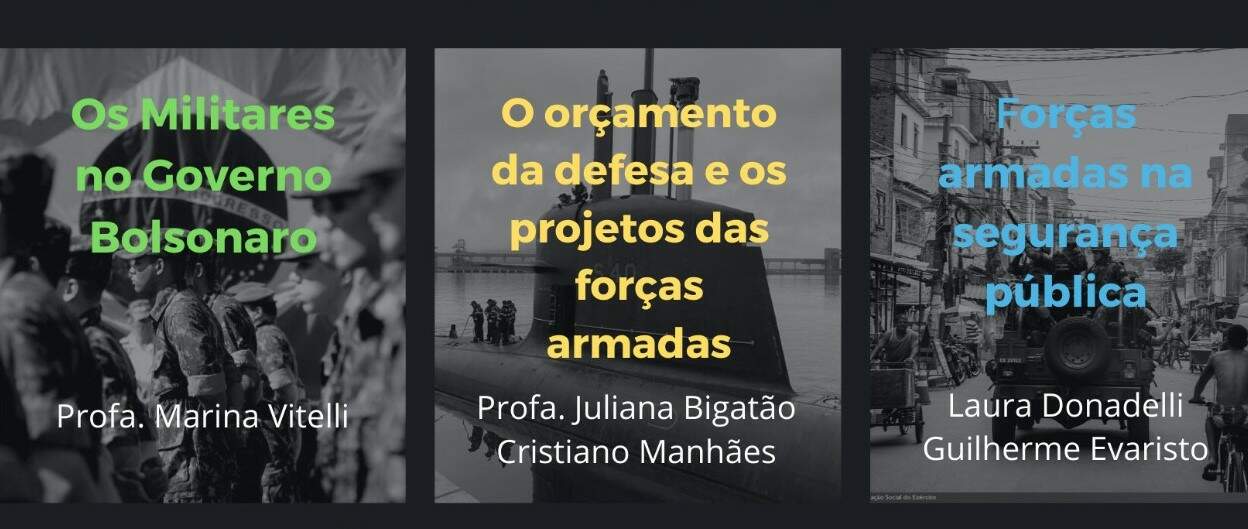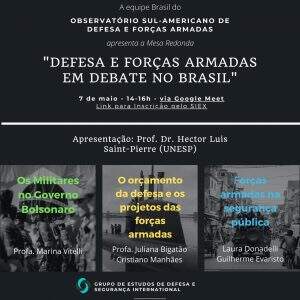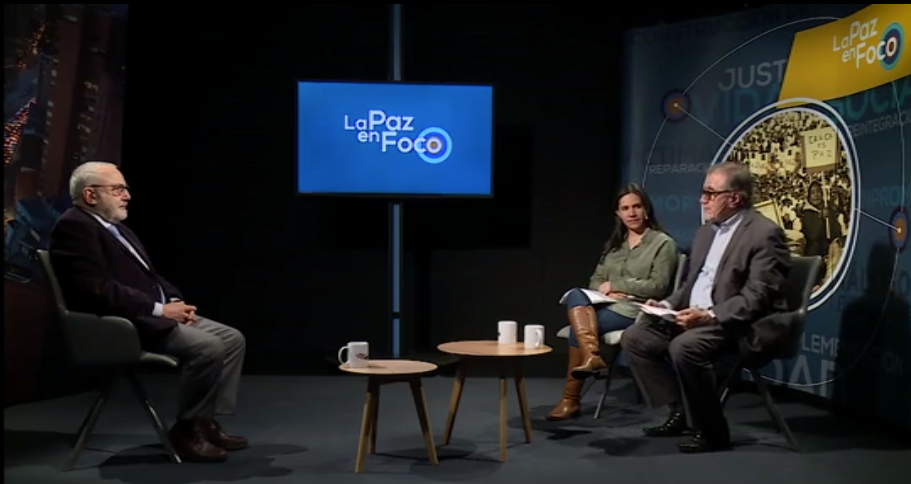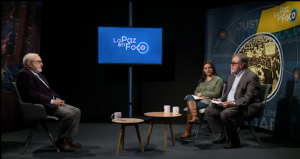Eduardo Mei, Héctor Luis Saint-Pierre, Suzeley Kalil Mathias e Samuel Alves Soares*
Texto originalmente publicado em Jornal da Unesp
A eleição do atual presidente do Brasil impulsionou análises segundo uma suposta diferença polarizada dos atores. Em pouco tempo foram apontadas “alas”, aqui uma ideológica, acolá outra neoliberal privativista. Entre ambas existiria um grupo racional e técnico, catapultado a um patamar mágico e infenso aos ditames das baixezas do fazer político pouco nobre e mesquinho.
Nomes de próceres das alas ideológicas e liberalizantes são bem conhecidos. A terceira ala foi ocupada pela corporação militar, sem que despontasse um ideólogo específico. A parcela racional e técnica foi mostrada pela grande imprensa como exercendo a condição do equilíbrio racional, em especial para controlar o histrião presidencial e conter arroubos inerentes a um despreparado beócio.
As alas desfilariam ao embalo dos ritmos “preservados” de procedimentos democráticos. Parcela considerável da opinião pública e da grande imprensa adotou esses marcos de forma apressada e acrítica. É possível analisar os processos e fatos recentes sob outra perspectiva.
Um ponto de partida é questionar se a própria eleição corresponde a um estatuto básico democrático, dimensão já razoavelmente considerada. Há outra possibilidade analítica, contudo, ainda pouco explorada. Foi estabelecido, sem mais, que as instituições armadas emprestaram sua imagem pública para referendar a eleição de um ex-militar de baixo calão e mobiliar o governo para dotá-lo de uma refundação política, capaz de decidir e agir afastado da sordidez dos usuais mecanismos político-partidários.
A fábula foi sendo engabelada com a contribuição de figuras como um astrólogo-filósofo, um ex-chanceler embevecido, uma ministra dos Direitos Humanos aturdida e outros prestidigitadores disponíveis. A eles coube reverberar a luta renhida contra um fantasioso ‘marxismo cultural’ e alertar para as ‘hostes comunistas’ afoitas e à espreita para aniquilarem valores ocidentais considerados inarredáveis.
O ‘partido militar’
Esse movimento veio a calhar para preservar as instituições castrenses, que jamais abandonaram o mantra do anticomunismo, do antiesquerdismo, de posições claramente antidemocráticas. Mais do que uma concepção de Guerra Fria obsessivamente prorrogada, o que orienta o “partido militar” é uma autopercepção de constituírem um poder soberano, preparado para definir, a seu critério e com seus valores, os momentos em que a excepcionalidade pode ser convocada para dirimir questões da esfera política, uma decisão que se desdobra para a definir quem são os amigos e os inimigos.
Na história política brasileira os inimigos estão claramente demarcados pelas campanhas contra populações pobres, negros, militares de baixa hierarquia. Recentemente, determinaram de forma explícita no Manual de Operações de Garantia da Lei e da Ordem os movimentos sociais e quilombolas como perpetradores contra uma ordem que os próprios fardados consideram como seu desígnio estabelecer.
Por imposição dos fardados, com apoio e conluio de lideranças civis, o artigo 142 da Constituição Federal estabelece para as Forças Armadas a garantia da ordem. Uma ordem que em um país com desigualdades dilacerantes mantém no limbo parcela considerável da população, considerados indignos de direitos mínimos. É esse artigo que fornece argumentos para os que consideram que aquele exercício soberano está orientado para “garantir os poderes constitucionais” e contra eles insurgirem-se a seu bel-prazer e quando considerarem oportuno.
Mais que partícipes
A tintura mais recente nas fardas é o pretenso preparo para a gestão pública, algo que não é novo na história política, pois remonta ao período do Império, considerando o elevado número de governadores e interventores militares. Agora, entretanto, recebem a alcunha de modernos gestores titulados em cursos adeptos do gerencialismo. De concreto, revelam o despreparo para a administração pública, o que de resto não lhes compete.
As sinecuras são ainda outro fator a explicar a participação de milhares de militares no atual governo, desvelando que o exercício do poder também se alimenta de vantagens pecuniárias. Dispositivos previdenciários diferenciados, para toda a corporação, adicionados das benesses para os que mobíliam ministérios, autarquias e fundações as mais variadas.
A serventia do fantoche na Presidência é que permite reforçar a concepção de que cabe aos militares refrear seus mais criminosos impulsos, como se o descalabro que ceifa vidas e a condição de o país ser considerado um pária internacional fossem alheios ao aparato de força, cuja sina é investir contra a nação estarrecida. Ao revés, torna-se crescentemente claro que os militares são, para além de partícipes do governo, os mentores e o seu pilar central.
Demissões no alto escalão
E bem recentemente há um abalo, efetivo ou aparente, na relação entre o governo e as Forças Armadas. O ministro da Defesa é substituído, assim como os três comandantes das Forças. De fato, essa é uma situação muito inusual e os pormenores do caso serão conhecidos no futuro. Por ora, e seguindo a abordagem analítica aqui proposta, robustece o argumento de que as Forças, em especial o Exército pelo seu peso político, agem com muita desenvoltura, ou mais precisamente, com autonomia. Publica-se que o presidente definiu os nomes, porém as evidências atuais são pouco críveis que assim tenha sido.
O atual comandante do Exército, em entrevista largamente divulgada dias antes das mudanças na estrutura de comando das Forças, havia indicado a forma como a crise da Covid-19 tem sido conduzida na instituição. Apenas corroborou o que o próprio Exército apresentou no início da crise, em 2020. Em estudo elaborado pelo Centro de Estudos Estratégicos do Exército, as tendências da pandemia e as formas mais eficazes para o seu enfrentamento estavam claramente indicadas no documento, convergente, por exemplo, às orientações da Organização Mundial da Saúde. Ficou disponível por poucos dias e foi retirado do site do referido Centro. Ao revés, o governo estabeleceu uma linha de ação muito diversa e os resultados da necropolítica foram sentidos em pouco tempo.
O comandante do Exército era justamente o general que conduzira ações na contramão daquelas definidas pelo governo , cujo ministro da Saúde era então um general da ativa. Por ora nota-se que as instituições militares, outra vez, tomam as decisões e reafirmam sua autonomia política. Reside neste ponto uma contradição profunda. Trata-se de um governo militar-bolsonarista, mas não significa que os militares detenham completo controle das ações. Os movimentos ultraconservadores e a extrema direita não possuem uma gênese exclusivamente militar, ainda que segmentos internos às corporações os reforcem.
O espólio militar é, portanto, muito grave. Para o interior das instituições militares parecem ter cumprido os protocolos mais eficazes para debelar a pandemia. Registre-se, entretanto, que ainda não há evidências suficientes para sustentar essa versão. De todo modo, caso confirmado, e com um Ministério da Saúde militarizado a conduzir de forma criminosa as ações relativas à segurança sanitária, caberia explicar o que levou a tratamento tão diferenciado para o chamado público interno e para a sociedade brasileira como um todo.
Imagem de afastamento da política
Estes eventos serviram para propagar um afastamento do governo ou, mais propriamente, uma forma de reafirmar que constituem uma instituição de Estado e não de governo. Recepcionar e difundir a visão de que as Forças Armadas estão apartadas de Bolsonaro é funcional para o projeto militar mais amplo, de permanência no poder, bem como de não serem responsabilizadas pelo desastre que o governo causou.
A política de poder é o que explica os movimentos das Forças Armadas, por vezes aparentemente contraditórios. Não houve retorno aos quartéis. É permanente esta condição, que na atual fase conjuga-se ao exercício do governo. O saldo final é duplamente assustador. Por um lado, a debilitação da Defesa, já que as armas se voltam para nacionais de específico espectro, os deserdados e os que lutam contra a ordem discriminatória estabelecida. Por outro, a terrível e inimaginável situação de milhares de mortos pela incúria na condução insana da política sanitária. A responsabilização da instituição militar há de vir, caso restem esperanças na justiça humana.
E a democracia permanece nostalgicamente distante enquanto o garrote autoritário é tensionado pela política de poder das Forças Armadas.
* Eduardo Mei, Héctor Luis Saint-Pierre, Samuel Alves Soares e Suzeley Kalil são professores do Departamento de Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp (FCHS), câmpus de Franca, e pesquisadores do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (Gedes).
Imagem: Cerimônia aos generais promovidos. Por: Alan Santos/Flickr/Palácio do Planalto.