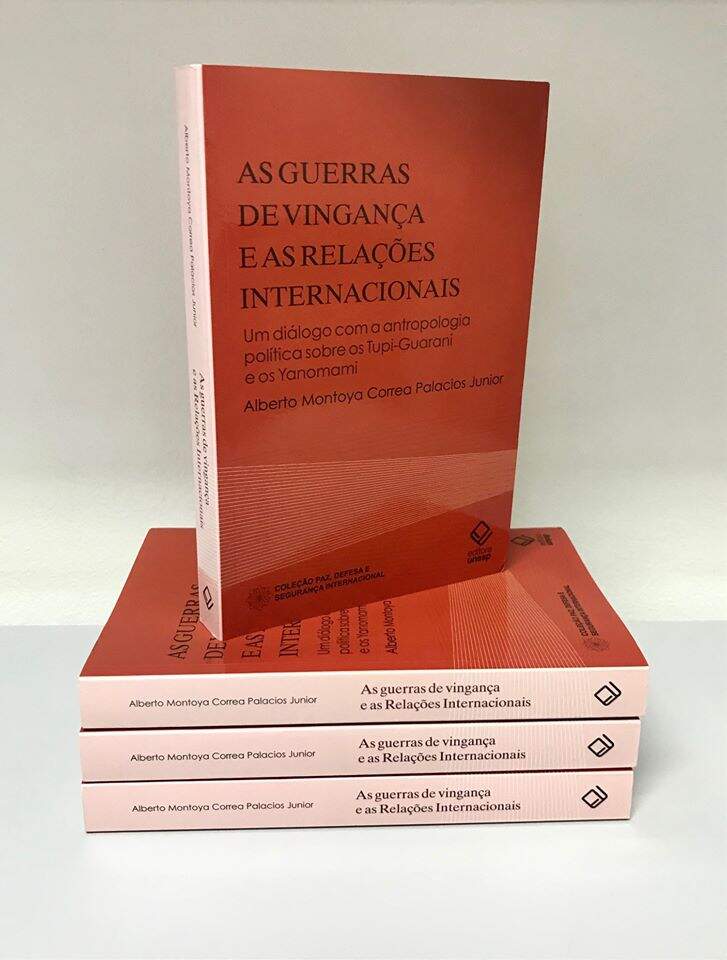
Categoria: Política Internacional
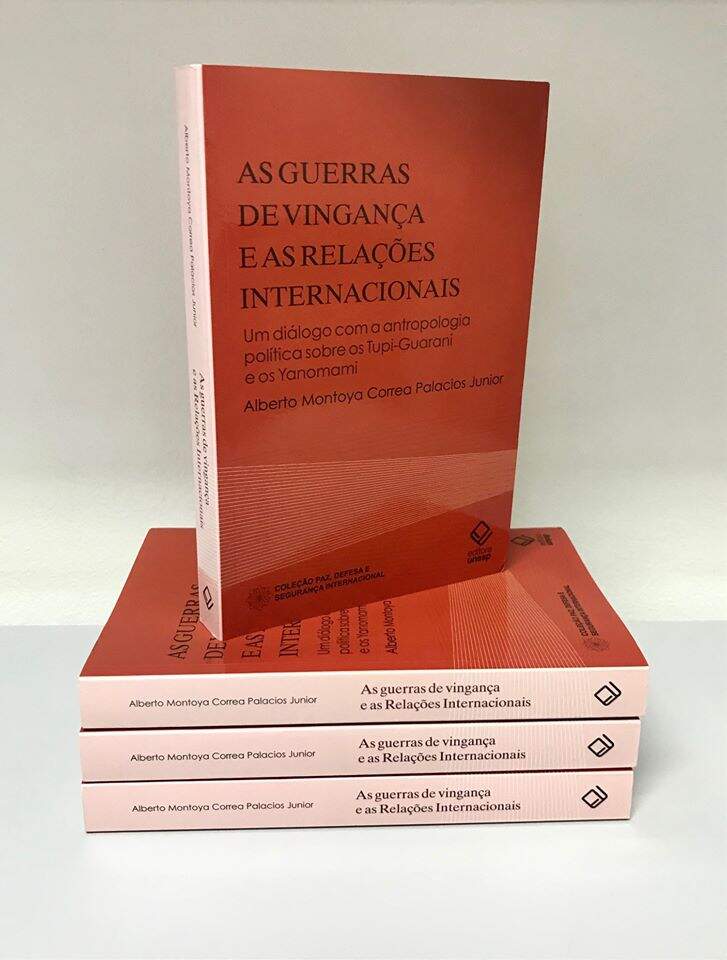

Série Especial de entrevistas discute a nova versão dos Documentos de Defesa Nacional
25 de novembro de 2019

Curso de Extensão: “Temas Contemporâneos de Segurança Internacional: Ferramentas de Análise”
25 de novembro de 2019
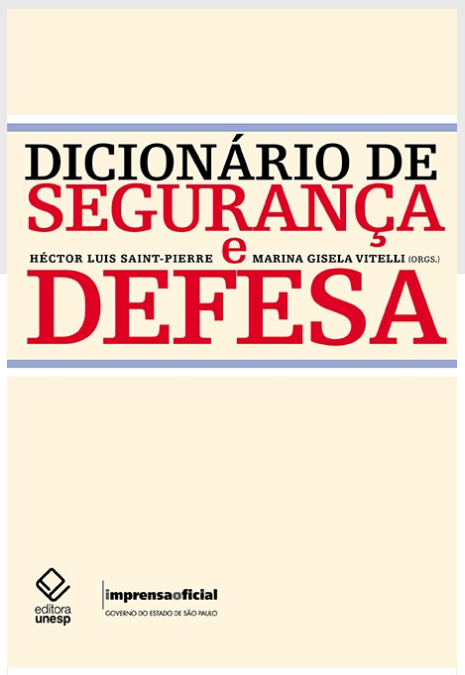
Dicionário de Segurança e Defesa
23 de outubro de 2019
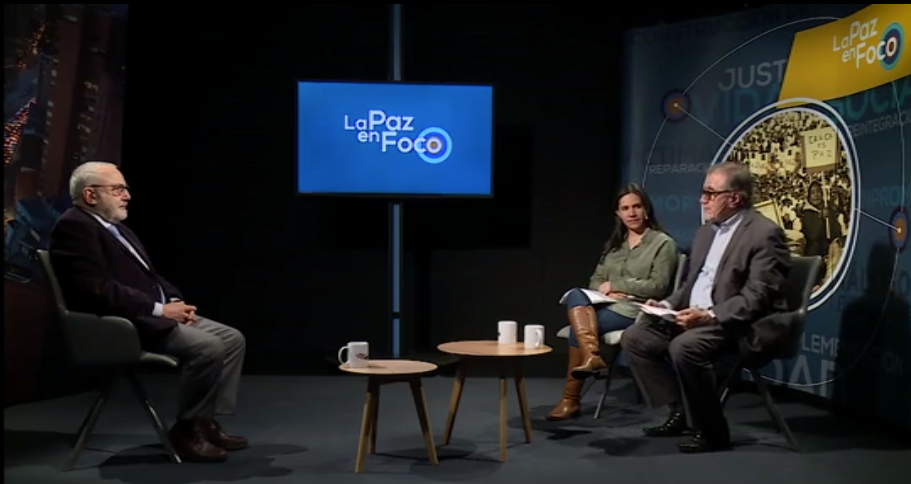
Gastos militares e investimentos em Defesa: a qual futuro nos leva a ponte?
18 de junho de 2018
Prospectiva Latinoamericana: elecciones, multilateralismo y fútbol
11 de junho de 2018
