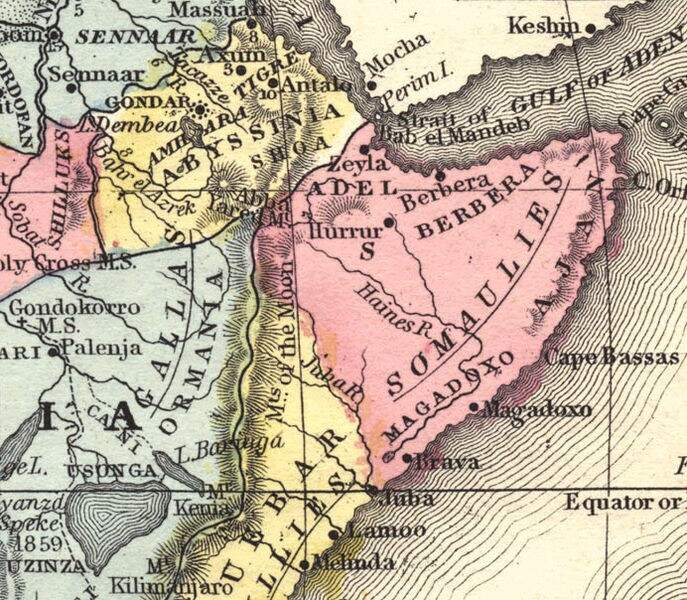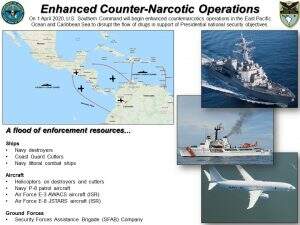João Vitor Tossini: Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais ‘San Tiago Dantas’ (UNESP, UNICAMP, PUC-SP).
E-mail: vitor.tossini@unesp.br
O Burundi foi por mais de quatro décadas um mandato colonial da Bélgica. Durante o período colonial, as rivalidades entre os dois principais grupos étnicos do Burundi, os Hutus e os Tutsi, foram fomentadas pela potência europeia, criando uma acentuada hostilidade. A mesma prática foi implementada em Ruanda, que até 1962 era administrada em conjunto com Burundi, sendo os dois países constituintes do protetorado belga de “Ruanda-Urundi”. Nos anos de domínio belga, parcela do grupo étnico Tutsi foi privilegiada pela força imperial para a ocupação de posições administrativas na organização colonial. Apesar da Bélgica utilizar estruturas locais de governança, a prática colonial simplificou o complexo sistema local ao dar preferência aos Tutsis e marginalizar a maioria Hutu. Dessa forma, criou-se uma das principais divisões que gerariam inúmeros conflitos internos no Burundi e em Ruanda (LONGFORD, 2005).
Em 1962, o Burundi conquistou sua independência da Bélgica como uma monarquia constitucional. A primeira eleição parlamentar do recém-independente Reino do Burundi resultava na vitória dos partidos de origem Hutu. Contudo, o monarca Mwami Mwambutsa IV, de origem Tutsi e constitucionalmente responsável por escolher o Primeiro Ministro, ignorou as urnas e apontou um Tutsi para o cargo. Assim, foi iniciado um longo período de instabilidade política, primeiramente marcado por uma tentativa fracassada de golpe de Estado por parte das forças policiais, nas quais os Hutus eram predominantes, em 1965. O Exército, composto em sua maioria por Tutsis, respondeu com uma série de expurgos direcionados aos militares Hutus e ataques contra civis, causando a morte de 5 mil indivíduos (PERI, 2006).
No ano seguinte, em resposta à tentativa de tomada do poder por parte dos Hutus, um golpe de Estado liderado pelo então capitão, e recém-empossado Primeiro Ministro, Michel Micombero da etnia Tutsi obteve sucesso e instaurou uma república. Micombero aboliu os demais partidos políticos, estabelecendo o unipartidarismo na República do Burundi. Os dez anos de governo Micombero seriam marcados pelo autoritarismo governamental baseado principalmente no apoio da etnia Tutsi (CHRÉTIEN, 2008). Em 1972, eclodiu uma revolta Hutu no sul de Burundi que atingiu rapidamente outras regiões. Como resposta, o governo iniciou uma campanha de repressão que resultou em aproximadamente 150 mil Hutus mortos, forçando outros milhares a deixar o Burundi em direção aos países próximos. A ação de Micombero foi caracterizada internacionalmente como um genocídio contra os Hutus (USIP, 2004; PERI, 2006).
Nesse contexto, durante o genocídio de 1972, os Estados Unidos se limitaram a enviar ajuda humanitária e evitar ações que pudessem ser interpretadas como simpáticas aos Hutus. Parte dos oficiais norte-americanos não consideravam o Burundi como um ator relevante para a política externa do país e, temendo o avança da influência soviética, buscavam evitar atritos com o governo liderado pelos Tutsis. Assim, houve uma ausência de uma severa resposta internacional com medidas econômicas ou políticas contra o governo Micombero, especialmente por parte dos Estados Unidos, um dos principais parceiros comerciais do Burundi, o que também se repetiria em momentos similares no futuro. (TAYLOR, 2012).
Quatro anos depois do início da política contra os Hutus, em 1976, Micombero, crescentemente impopular entre partes da base militar, sofreu um golpe de Estado liderado pelo Coronel Jean-Baptiste Bagaza, igualmente da etnia Tutsi. Bagaza manteve o sistema de partido-único, estabeleceu eleições em 1981 para legitimar o seu governo e limitou a liberdade religiosa da população (YOUNG, 2010). Ademais, Bagaza colocou fim à política repressiva contra os Hutus, amplamente adotada por Micombero (USIP, 2004). O governo de Bagaza seria derrubado em 1987 quando este, por sua vez, sofreu um golpe por parte do Major Pierre Buyoya, da etnia Tutsi, representando descontentamentos dentro do Exército em relação às políticas de Bagaza.
O regime de Buyoya não divergiu dos seus predecessores, mantendo um governo autoritário e unipartidário por meio de um Comitê de Salvação Nacional. Nesse cenário, em 1988, uma revolta Hutu resultou em violenta resposta governamental, levando ao massacre aproximadamente 20 mil indivíduos majoritariamente dessa etnia. Nos anos seguintes, devido às pressões internacionais, Buyoya adotou uma política moderada, com a admissão de Hutus nos cargos governamentais, incluindo no posto cerimonial de Primeiro Ministro. Contudo, Buyoya negou a representação proporcional aos Hutus, o que significaria um governo de minoria Tutsi.
O tom relativamente moderado de Buyoya, após os massacres de 1988, gerou descontentamento de parte dos Tutsis no governo e no Exército. Apesar disso, o presidente se manteve no poder e prosseguiu com políticas conciliadoras. Em fevereiro de 1991, uma Carta de União Nacional foi aprovada pela população em referendo, prevendo o fim do regime ditatorial, instauração de nova constituição e medidas para melhoria das relações entre os Hutus e Tutsis, incluindo direitos iguais e a condenação da violência étnica. No ano seguinte, em 1992, ministros e militares Tutsi participaram de uma tentativa fracassada de golpe de Estado visando evitar novas reformas. Nesse mesmo ano, com o apoio de diversos países da comunidade internacional, incluindo os membros do Conselho de Segurança da ONU, (USIP, 2004) foi decretado o fim do sistema unipartidário e a adoção de uma constituição com o poder investido em um presidente com mandato de cinco anos, com eleições agendadas para junho de 1993 (UNHCR, 2004).
As eleições gerais de junho de 1993 resultaram na vitória do candidato Melchior Ndadaye da etnia Hutu, colocando fim a três décadas do domínio político dos Tutsis. Em julho, uma tentativa fracassada de golpe ocorreu por parte do Exército, dominado por Tutsis e apoiadores do antigo presidente Buyoya. Em outubro de 1993, o presidente Ndadaye foi assassinado por soldados Tutsi durante um golpe de Estado, dando início a um período de guerra civil que seria marcada pelo genocídio de uma etnia contra a outra. Entre outubro de 1993 e a redução da violência armada nos anos 2004 e 2005, o saldo foi de no mínimo 150 mil indivíduos mortos e quase um milhão de refugiados (UNHCR, 2004). Após a violência inicial, entre os anos de 1994 e 1996 ocorreram tentativas da criação de governos com a participação de ambos os grupos étnicos (HUMAN RIGHTS WATCH, 2001). O fracasso dessas empreitadas levou ao enfraquecimento da autoridade estatal e ao aumento da radicalização de grupos Hutus e Tutsis.
Em 1996, o ex-presidente Buyoya, responsável pela transição democrática de 1993, liderou um golpe de Estado visando restabelecer a legitimidade do governo e buscar uma solução pacífica para a guerra civil. Todavia, Buyoya rapidamente foi visto como ilegítimo pela maioria dos Hutus, levando à escalada do conflito. Dois anos depois, Buyoya iniciou negociações de paz que resultaram nos Acordos de Arusha de agosto de 2000 que previam, dentre outras questões, o estabelecimento de governo com participação Tutsi e Hutu. Apesar do Governo de Burundi, partidos políticos e grupos paramilitares Hutus e Tutsis assinarem os acordos, certos grupos radicais de ambos os lados se recusaram a fazê-lo. Em 2001, um governo de transição foi estabelecido e um novo acordo entre o governo e o maior grupo de rebeldes Hutus, o “Conselho Nacional para a Defesa das Forças Democráticas” (CNDD-FDD), foi firmado em 2003. Neste mesmo ano, ocorreram eleições gerais e Domitien Ndayizeye, da maioria étnica Hutu, tornou-se presidente (BURUNDI, 2018). Em 2003, visando garantir a continuidade do processo de paz e o fim dos conflitos no país, a União Africana (UA) enviou uma força de paz ao Burundi intitulada “Missão da União Africana no Burundi” (AMIB). Adicionalmente, no ano seguinte, o Conselho de Segurança das Nações Unidas estabeleceu a “Operação das Nações Unidas no Burundi” (ONUB), estando ativa entre maio de 2004 e dezembro de 2006 (PERI, 2006). Mesmo com o fim da guerra civil, que custou a vida de cerca de 300 mil pessoas, casos de violência esporádica ocorreram nos anos de 2007 e 2008.
Em abril de 2015, o presidente Pierre Nkurunziza, da etnia Hutu e ligado ao CNDD-FDD, declarou intenção de concorrer a um terceiro mandato presidencial, após as vitórias nas eleições de 2005 e 2010. Opositores alegaram que a decisão de Nkurunziza e de seu partido era inconstitucional. Apesar de a Suprema Corte do país emitir decisão favorável ao presidente, seus membros alegaram terem sido pressionados pelo governo durante os dias anteriores à votação e alguns optaram por fugir do país. Nos dias seguintes, em 13 de maio, ocorreu uma tentativa fracassada de depor Nkurunziza, o que gerou forte resposta do governo. Perseguições políticas e restrição da liberdade de expressão retornaram ao centro da prática governamental. Com o crescimento de protestos contra o presidente, houve confrontos entre a população civil e militares. No fim de maio, era estimado que aproximadamente 100 mil pessoas haviam deixado o Burundi na condição de refugiados (KARIMI; KRIEL, 2015).
Apesar da pressão de órgãos internacionais, incluindo a UA e a Organização das Nações Unidas (ONU), o governo realizou eleições gerais no fim de junho, boicotadas pela oposição. Nkurunziza foi reeleito para o seu terceiro mandato. Nesse contexto, a UA declarou a intenção de enviar tropas para o Burundi visando proteger os civis da violência entre o governo e grupos opositores. O presidente eleito declarou que as forças da UA não eram bem-vindas no país (BURUNDI, 2018).
A vitória do presidente Nkurunziza nas eleições de julho de 2015 influenciou diretamente no agravamento da situação interna do Burundi. A crise constitucional transformou-se em conflito de baixa intensidade entre o governo e grupos rebeldes, levando 400 mil pessoas a deixarem o Burundi como refugiados entre 2015 e 2017. Concomitantemente, o cenário político e étnico voltou a polarizar o Exército que, desde o fim da Guerra Civil, implementou um programa de diversificação de seu efetivo e distanciamento de questões políticas, ao passo que participou de operações de manutenção da paz em outros países, ganhando reputação interna e externa. Desde 2015, o governo Nkurunziza iniciou uma política de perseguição e punição aos seus oponentes dentro das fileiras do Exército (INTERNATIONAL CRISIS GROUP, 2017). Destarte, uma década de programas que objetivavam profissionalizar e despolitizar essa força militar foi lentamente corroída, gerando fissuras entre os seus diversos setores e colocando as Forças Armadas do Burundi de volta ao centro da política nacional.
Visando legitimar a sua continuidade no governo, Nkurunziza estabeleceu a realização de um referendo em maio de 2018, que previa a possibilidade de sua continuidade no cargo até 2034 (BURUNDI, 2018). A vitória de Nkurunziza no referendo constitucional de 2018 foi marcada pela suspeita de coação, repressão e assassinato de ao menos 15 opositores. Diante desse quadro volátil no âmbito civil e militar, aproximadamente 1,200 pessoas morreram entre 2015 e 2018 em embates (BURUNDI, 2018). Nesse período, após a ONU pedir para que a Corte Penal Internacional investigasse as violações aos Direitos Humanos no país, Nkurunziza retirou o país da jurisdição da Corte (DAHIR, 2020).
O conflito mais recente, iniciado pelo desejo do presidente de continuar no cargo, se prolonga com o surgimento de pequenos grupos rebeldes com organização similar aos grupos rebeldes existentes nos anos de guerra civil (UPPSALA, 2020). Com um crescente desgaste político, em junho de 2018, Nkurunziza anunciou que não concorreria nas eleições gerais de 2020 (NIMUBONA, 2018).
O Major-General Evariste Ndayishimiye, da mesma etnia Hutu e partido de Nkurunziza, foi oficialmente declarado como o vencedor da eleição presidencial em maio de 2020 (TAARIFA, 2020). Contudo, a campanha eleitoral foi marcada pela violência, prisões arbitrárias e intimidação de opositores por parte do governo Nkurunziza, apoiador de Evariste. Assim, entre janeiro e março, ocorreram 81 mortes ou execuções extrajudiciais, mais de 20 casos de tortura, 204 prisões arbitrárias, dentre outras violações grandemente associadas aos apoiadores de Evariste. Além disso, no dia de votação, foram relatadas pela Iniciativa de Direitos Humanos do Burundi (Burundi Human Rights Initiative) práticas irregulares como: a ocorrência de coerção, prisão de membros da oposição, e membros do partido de Nkurunziza votando múltiplas vezes (BHRI, 2020). Por fim, utilizando-se das políticas de isolamento derivadas da pandemia da COVID-19, o governo do Burundi promoveu uma eleição geral sem observadores internacionais – indivíduos imparciais que, representando outros Estados ou organizações, fiscalizam a condução do processo eleitoral -, aprofundando dúvidas sobre sua legitimidade e contestações dos partidos de oposição, predominantemente Tutsis (DAHIR, 2020).
Com o exposto acima, desde sua independência, o Burundi possui um histórico marcado por conflitos internos entre as suas duas principais etnias, os Hutus e os Tutsis. Depois de mais de quatro décadas, essas partes gradativamente buscaram acordos que reestabeleceram uma política de convivência étnica e relativa estabilidade política. Assim, entre meados dos anos 2000 até 2014, o Burundi passou por um período de relativa estabilidade, redução da violência étnica e profissionalização de suas Forças Armadas. Contudo, em 2015, contrariando a constituição, o Presidente Nkurunziza anunciou a sua participação nas eleições gerais visando um terceiro mandato. A vitória de Nkurunziza em uma votação questionada interna e externamente resultou em protestos civis e na retomada de conflitos esporádicos e de baixa intensidade ao redor do país, assim como na polarização das forças militares. Da mesma forma, as eleições presidenciais de 2020 foram caracterizadas pela violência e perseguição política que favoreceram o vencedor, Evariste Ndayishimiye, protegido de Nkurunziza.
Com a morte de Nkurunziza em junho de 2020, após um ataque cardíaco, seu sucessor não poderá contar com a apoio de uma figura que dominou a política de Burundi por 15 anos e elevou-se ao posto de “Guia Supremo do Patriotismo” durante seus turbulentos anos no governo (PIERRE, 2020). Logo, o novo Presidente eleito assumirá o cargo com sua legitimidade questionada devido às eleições duvidosas e sem o apoio de uma personalidade tradicional da política nacional. Concomitantemente, Evariste possivelmente terá maior autonomia com a ausência de seu aliado político, podendo abrir caminho para um novo período na política nacional do Burundi.
REFERÊNCIAS
AS BURUNDIANS WAIT for referendum results HRW says 15 killed in campaigns. The East African. 18 maio, 2018. Disponível em: https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Burundi-referendum-results-human-rights-watch/4552908-4568226-v07738/index.html. Acesso em: 23 maio. 2020.
BHRI. Burundi Election Statement: International inertia as election tensions flare in Burundi. Burundi Human Rights Initiative. 30 May 2020.
BOTTE, Roger. Rwanda and Burundi, 1889-1930: Chronology of a Slow Assassination. The International Journal of African Historical Studies. 18 (2): 289–314, 1985.
BURUNDI COURT BACKS President Nkurunziza on third-term. BBC. 5 maio, 2015. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/world-africa-32588658> Acesso em 26 maio. 2020.
BURUNDI profile – Timeline. BBC. 3 dezembro, 2018. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/world-africa-13087604> Acesso em: 27 maio. 2020.
CHRÉTIEN, Jean-Pierre. “Micombero, Michel”. In GATES, Louis, Jr.; AKYEAMPONG, Emmanuel K. (eds.). Dictionary of African Biography. Oxford: Oxford University Press. 2008.
DAHIR, Abdi Latif. Burundi Turns Out to Replace President of 15 Years, Pandemic or No. May 20, 2020. The New York Times. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2020/05/20/world/africa/burundi-election.html> Acesso em 1 jun. 2020.
HEAVY shelling in Burundi capital. BBC. 18 abril, 2008. Disponível em: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7354005.stm> Acesso em: 27 maio. 2020.
HUMAN RIGHTS WATCH. To Protect the People: the Government-sponsored “self-defense” program in Burundi. December 2001, Vol. 13,No. 7(A).
INTERNATIONAL CRISIS GROUP. Burundi: The Army in Crisis. Report nº247/Africa. 5 April 2017. Disponível em: <https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/burundi/247-burundi-army-crisis> Acesso em: 26 maio. 2020.
LONGFORD, Peter. “The Rwandan Path to Genocide: The Genesis of the Capacity of the Rwandan Post-colonial State to Organise and Unleash a project of Extermination“. Civil Wars Vol. 7 n.3, 2005.
NIMUBONA, Desire. Burundi President Pierre Nkurunziza Pledges to Step Down in 2020. 7 de Junho de 2018. Disponível em: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-07/burundi-president-pierre-nkurunziza-pledges-to-step-down-in-2020> Acesso em 1 jun. 2020.
KARIMI, Faith; KRIEL, Robyn. Burundi: Leaders of attempted coup arrested after President’s return. CNN. 20 maio, 2015. Disponível em: <https://edition.cnn.com/2015/05/15/africa/burundi-coup-leaders-arrested/index.html> Acesso em: 29 maio. 2020.
PERI. Burundi (1993-2006). Modern Conflicts: Conflict Profile. Political Economy Research Institute. University of Massachusetts Amherst, 2006. Disponível em: <http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/dpe/modern_conflicts/burundi.pdf> Acesso em 19 maio 2020.
PIERRE Nkurunziza, presidente do Burundi, morre de ataque cardíaco. G1, 09 de junho de 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/06/09/pierre-nkurunziza-presidente-do-burundi-morre-de-ataque-cardiaco.ghtml> Acesso em 10 jun. 2020.
TAARIFA. Gen. Evariste Ndayishimiye Is New President Of Burundi. 25 May 2020. Disponível em: <https://taarifa.rw/gen-evariste-ndayishimiye-is-new-president-of-burundi/> Acesso em 02 jun. 2020.
TAYLOR, Jordan D., The U.S. response to the Burundi Genocide of 1972. Masters Theses. JMU Scholarly Commons/James Madison University, Spring 2012.
UNHCR. Chronology for Hutus in Burundi. Minorities at Risk Project, 2004. Disponível em: <https://www.refworld.org/docid/469f38731e.html> Acesso em: 20 maio. 2020.
UNITED NATIONS. Resolution 1719 (2006). 25 October 2006. Disponível em: <https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1719(2006)> Acesso em: 26 maio. 2020.
USIP. International Commission of Inquiry for Burundi: Final Report. United States Institute of Peace, USIP Library. January 13, 2004.
UPPSALA. Country: Burundi. Uppsala Conflict Data Programme (UCDP). Disponível em: <https://ucdp.uu.se/#country/516> Acesso em 21 maio. 2020.
YOUNG, Eric. “Jean-Baptiste Bagaza”. In APPIAH, Kwame Anthony; GATES, Henry Louis (eds.). Encyclopedia of Africa. i. Oxford: Oxford University Press. 2010. p. 146.
Imagem: Soldados do Exército do Burundi na periferia de Bujumbura em 2019. Fonte: AFP Photo/PHIL MOORE