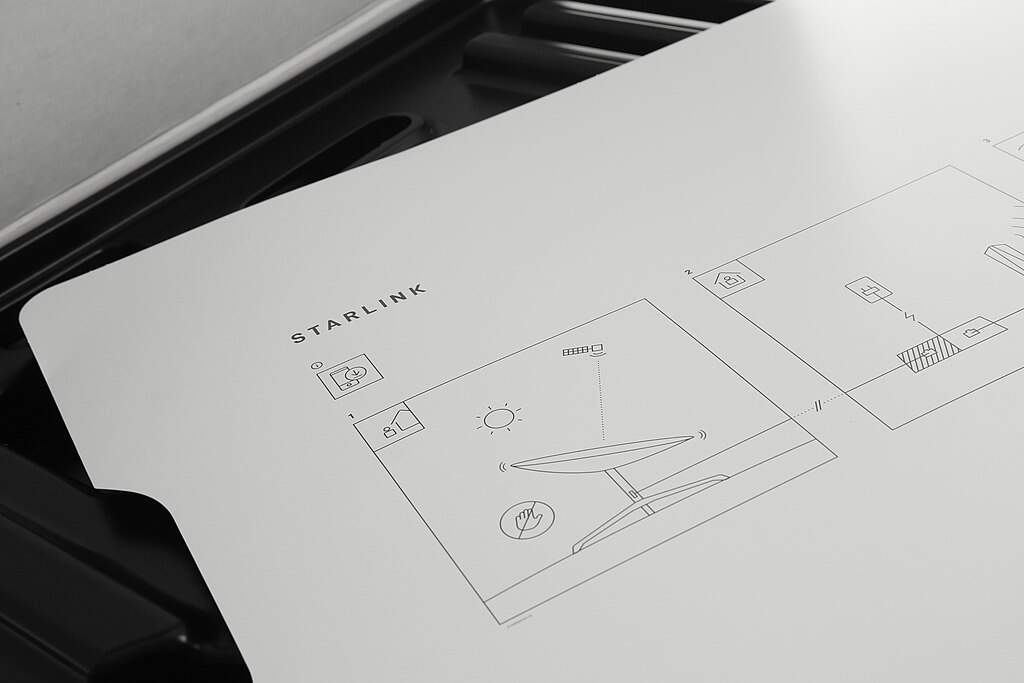José Roberto Gnecco*
Desde sua criação em 1894 e primeira edição em 1896, os Jogos Olímpicos da Modernidade estiveram insertos dentro do contexto sociocultural de seu tempo e expressaram o zeitgeist da Humanidade. Conflitos de classe, religiosos, raciais, sociais até a expressão moderna e secular de conflitos políticos sempre estiveram presentes – não poderia ser diferente em Beijing 2022.
A própria criação dos Jogos Olímpicos da Modernidade é espírito de seu tempo, sendo uma releitura do sentido dos Jogos Olímpicos da Antiguidade na esteira do Iluminismo e do Classicismo europeus. Seu principal criador, o francês Pierre de Fredy (1863-1937), Barão de Coubertin, era um nobre no país que houvera decapitado seu rei e sua rainha, vindo a idealizar como modelo para a recuperação da glória do passado a educação por meio do esporte formadora da aristocracia na monárquica Grã-Bretanha.
Os Jogos Olímpicos da Antiguidade, oficialmente de 776 a.C. a 393 d.C., foram um dos festivais pan-helênicos compostos pelas famílias aristocráticas que viviam nas cidades-Estado gregas, os quais, pelo reconhecimento intrínseco do pertencimento de todos a um só povo – os helenos, com mesma religião, mesma base geográfica, mesma organização social, descendentes dos mesmos deuses, etc. – foram realizados regularmente e, além das atividades objetivamente neles desenvolvidas – no caso de Olímpia, as competições individuais -, eram festas religiosas para adoração a seus deuses, semideuses e antepassados. Nasceram como os jogos funerários descritos no Livro XXIII da Ilíada cantada por Homero – como consequência, em respeito aos heróis mortos, sendo que não só o fogo sagrado representa a eternidade, mas cessam-se as hostilidades entre os helenos e estes não tomariam a iniciativa da guerra contra estrangeiros – a trégua sagrada.
Ao articular os interessados em esporte de diferentes países – geralmente por meio de suas famílias reais – viabilizando a fundação do Comitê Olímpico Internacional no final do século XIX, Pierre de Coubertin esperava com os Jogos difundir a paz e preservar a ordem social dos “antigos”, de forma que só poderiam participar dos Jogos aqueles que o fizessem “amadoristicamente” – as aristocracias – pelo puro desfrute da competição em busca de ser o mais forte, o mais alto e o mais veloz – um dos lemas originais dos Jogos Olímpicos da Modernidade. Em seu início, os Jogos se consolidariam como mais um diferencial de classe dentre aqueles que possuíam tempo livre para praticar esporte e aqueles que só viviam para trabalhar – e sem acesso ao esporte.
Pierre de Coubertin houvera visto, em sua infância, a derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana de 1870, a Comuna de Paris de 1871 e a formação da Terceira República Francesa a partir de 1870, eventos correlacionados que não colocavam a nobreza no lugar em que Pierre considerava que deveria estar. Por isso, foi buscar como modelo a educação esportiva britânica nos colégios que formavam a aristocracia.
Mais ainda, esperava que, com a recriação dos Jogos Olímpicos o envolvimento dos Países com o esporte “amador” e a própria realização dos Jogos impedissem e interrompessem as guerras! Não foi isso o que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial com os Jogos que seriam em 1916 e, muito menos, durante a Segunda Guerra Mundial com os Jogos que seriam em 1940 e 1944, não sendo reconhecidos os Jogos organizados pelos Países do Eixo no Japão em 1940. Fora isso, os Jogos só foram adiados uma vez em Tóquio 2020 para 2021 devido à pandemia de Covid-19.
Além de sua origem como diferencial de classe, os Jogos conviveram com questões religiosas como o abandono da participação de atletas quando a competição coincidia com dias consagrados, com questões sociais – os melhores maratonistas africanos corriam descalços -, com conflitos raciais – o boicote dos Países africanos aos Jogos enquanto perdurasse o apartheid sul-africano -, com conflitos políticos durante a Guerra Fria – inclusive nas quadras e nas arenas -, com a dopagem em busca da vitória a qualquer preço, etc.
Se os Jogos de Londres 1948 foram realizados para demonstrar que o Reino Unido se reerguia após a Segunda Guerra Mundial, os Jogos de Roma 1960, Tóquio 1964 e Munique 1972 foram realizados pelos Países derrotados na Guerra para se reapresentarem ao mundo. Além disso, são realizados tanto para business nos Países capitalistas mais desenvolvidos, quanto para apresentação e reposicionamento mundial dos Países com menor desenvolvimento relativo. Ainda, os Jogos Olímpicos e as Copas do Mundo de Futebol ocupam espaço intrínseco à realização do soft-power das Nações sendo momentos de conversações entre Chefes de Estado sem a pressão por resultados nem a rígidos compromissos – já começa aí uma certa “trégua”!

Não diferente, mas com diferenças, assim o contexto que polarizou os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022. No auge da Guerra Fria, os Estados Unidos e as nações a eles aliadas vêm a boicotar explícita e totalmente os Jogos Olímpicos de Moscou 1980 devido a invasão soviética ao Afeganistão em 1979; em resposta, o bloco soviético vem a boicotar os Jogos Olímpicos de Los Angeles 1984 – não se esquecendo de que agora foram os Estados Unidos que invadiram Granada em 1983. Esses boicotes causaram vasta repercussão e comoção mundial e inúmeros discursos de revolta dos atletas ao verem seu treinamento de quatro anos ser desperdiçado – com pouca chance de estarem novamente em condições de competir em nível olímpico daí quatro ou oito anos.
Desta vez, os Estados Unidos anunciaram, em dezembro de 2021, boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Beijing sob a alegação de que a China cometeria genocídio e crimes contra a humanidade a determinadas etnias em seu interior, sendo seguidos no boicote por Austrália e Reino Unido, países componentes da recém-criada AUKUS e mais oito Países em sua órbita. O boicote diplomático não impacta na ausência esportiva dos atletas, mas na ausência das autoridades nacionais que prestigiariam o evento de forma a enfraquecê-lo politicamente, mas com o desenrolar dos fatos isso não aconteceu.
Noventa e um Comitês Olímpicos Nacionais estiveram presentes competindo nos Jogos e dentre as autoridades mais destacadas teve-se o presidente russo Vladimir Putin fortalecendo parcerias com o presidente chinês anfitrião Xi Jinping. Como pôde ser percebido, os Jogos Olímpicos de Beijing 2022 terminaram em 20 de fevereiro e o reconhecimento da independência das duas regiões autônomas do leste ucraniano pela Rússia aconteceu em 22 de fevereiro, assim como a invasão da Ucrânia veio a acontecer em 24 de fevereiro – após os Jogos. Se assim Putin viabilizou não interferir no andamento dos Jogos e em sua cobertura midiática (ROMANO-SCHUTTE, 2022, 52min), a Rússia não deixou de ser acusada pelo Comitê Olímpico Internacional pela quebra da trégua sagrada “Construindo um mundo pacífico e melhor por meio do esporte e do ideal olímpico”; a aprovação dessa Resolução pela Assembleia Geral da ONU em 2 de dezembro de 2021 instituiu a interrupção de todo conflito por sete dias antes e por sete dias depois dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Beijing 2022 (UNITED NATIONS…, 2021).
Finalmente, dos pontos de vista norte-americano e de seus aliados, o boicote diplomático aos Jogos de Beijing se insere na Guerra Fria 2.0 pela disputa da hegemonia política e comercial mundial; para a Rússia e para a China, seus movimentos estratégicos são a contrapartida para a contenção da expansão unipolar norte-americana na política, no esporte e na guerra, dentre outros.
Referências:
ROMANO-SCHUTTE, G. International Crisis: the Ukraine Question – Panel 2. São Paulo: Seminário Conjunto INCT-INEU & IPPRI/GEDES, 22 fev. 2022. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UxxbOorCGrc . Acesso em: 28 fev. 2022.
UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY. Sport for development and peace: building a peaceful and better world through sport and the Olympic ideal: Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2021. New York, 2 dec. 2021. Disponível em: https://undocs.org/en/A/RES/76/13 . Acesso em: 28 fev. 2022.
* O texto foi escrito em 28 de fevereiro de 2022.
**Professor da UNESP; pós-doutorando no Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais; foi representante brasileiro no Comitê Intergovernamental para Educação Física e Esporte da UNESCO.
Imagem em destaque: Cerimônia de Abertura. Jogos Olímpicos de Inverno, Beijing, 2022. Por: Presidential Executive Office of Russia/Wikimedia Commons.
Imagem no texto: O pôster oficial dos Jogos Olímpicos de Londres 1948 contém as cenas dos impactos dos bombardeios sobre o Parlamento britânico (Palácio de Westminster) durante a Segunda Guerra Mundial. Por: UK National Archives.